Escrito por Sara Jona
A primeira vez que ouvi falar na Paulina Chiziane foi na Faculdade de Letras da Universidade Eduardo Mondlane, instituição na qual ela e eu estudámos. Frequentámos o curso de Linguística, com saídas para essa área de saber, mais a Literatura. Não fomos colegas de turma. Ela tinha sido de um ano anterior ao meu. Feitas as contas, foi admitida nos anos 89/90 e eu fui aceite no semestre 90/91, segundo ano após a reabertura dessa instituição ora encerrada.
Cruzei-me com ela uma vez nos corredores da Faculdade, mas deixei de a ver e constou-me que tinha desistido. Não conheço o contexto da sua desistência, mas havia, na Faculdade, a fama dos cadeirões de que poucos gostavam ou com que poucos simpatizavam – dentre eles as disciplinas de Literatura. A ideia dos cadeirões existe em muitos cursos, sobretudo nos de Direito, Medicina e área das Engenharias. Não sei se essa terá sido alguma das razões, mas nunca explorei, porque constando-me que ela já escrevia desde os anos 80, assumi que o interesse em estudar algo em que já trabalhasse poderia ter-se perdido. Não sei.
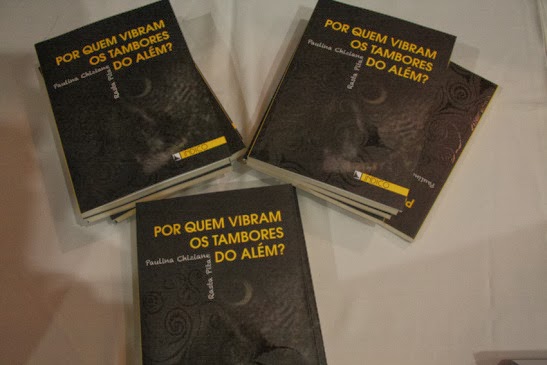
Fui lendo a autora amiúde. Sempre gostei e inspirou-me a ideia de ela fazer representações simbólicas dos moçambicanos, sobre as suas culturas e sobre o seu modo de ser e de fazer, i.e, sobre a etnologia e a antropologia. Devo dizer que me espantou a sua mudança para a abordagem sobre assuntos psicossociais, para a psicologia, mediunidade e religião/teologia, mas após ler Por Quem Vibram os Tambores do Além (PVTA, 2013), vi a importância dessa mudança, para um melhor conhecimento da filosofia de vida do povo representado nas suas obras, aliado à sabedoria que a autora já tinha começado a disseminar sobre esse mesmo povo.
O que me sossegou nessa obra foi a desmistificação da ideia de se comparar o curandeiro ao charlatão ou ao feiticeiro. Ecoavam-me dessa leitura, que não é ficcional, os dez princípios dos curandeiros, que julgo humanos e comuns em qualquer religião, que são: respeito e obediência ao Grande Espírito (Deus); respeitar a natureza, não invocar os espíritos em vão, pureza do corpo e da alma, mente iluminada, presença do espírito, auto-confiança, solidariedade, amor ao próximo, serenidade e silêncio (PVTA, 30-31). Esses dados são importantes para a compreensão da obra ficcional O Sétimo Juramento (2000), incompreendida e desconcertante, entre muitas razões por se julgar que o trabalho do feiticeiro é o mesmo que o do curandeiro. Esclarecendo melhor, David, o personagem desta última obra que comete incesto, na crença de que será rico, foi sujeito a um tratamento ligado à feitiçaria e isso não é curandeirismo.
Uma longa conversa no avião
No ano em que Paulina Chiziane publicou Niketche, uma História de Poligamia (2002), teve que ir a Portugal, suponho que para o lançamento da obra, e viajámos, por coincidência, no mesmo voo. Tivemos uma conversa longa; disse-lhe que tinha gostado da sua narração no livro, mas que me questionava sobre a representação que fazia do tratamento do corpo da mulher e das questões ligadas à sua sexualidade. Espantava-me muito a coragem que teve em descrever o recato da mulher do Sul, muito por conta da aculturação da cultura portuguesa, em detrimento da abertura com que as mulheres do Norte tinham conseguido manter e viver a sua sensualidade como mulheres. Comentei o quão o romance era realista. E dei-lhe os parabéns pela ousadia. E ela perguntou-me se eu achava que ela, na sua expressão, “tinha partido a louça”.
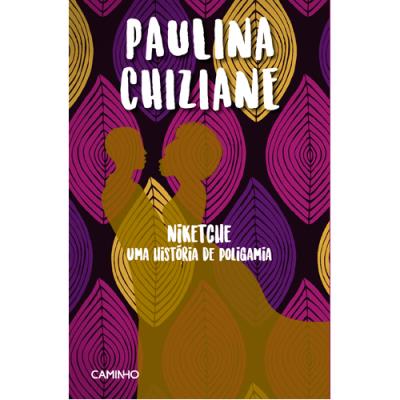
Conversámos sobre o quão era importante que em processos de trocas culturais fosse possível haver um diálogo no qual se faça a síntese do que é positivo e dignificante para ambas as culturas. Na altura ainda não se fazia o debate sobre a interculturalidade (eu não o conhecia). Por isso, não foi essa a expressão que utilizámos, mas a tónica era essa. Não entrámos em pormenores sobre a realização de ritos de iniciação da rapariga, mas o teor da nossa conversa quase aí desembocou. Hoje, longe desse acontecimento, gostava de ter uma conversa a respeito, porque Niketche convida a isso.
Ela garantiu-me que não escrevia sem antes pesquisar o assunto e falar com várias pessoas sobre o mesmo. Além de que estava num momento da sua vida no qual podia colher diferentes experiências sobre hábitos e costumes dos moçambicanos, dada a natureza do trabalho que fez na Cruz Vermelha e a um outro trabalho que fazia uma organização de mulheres na qual trabalhava. Por causa disso, continuava a considerar-se uma simples contadora de histórias, até porque algumas das histórias que narrava tinham a ver com o seu contexto de crescimento na tradição das regiões do sul de Moçambique, onde nasceu e onde foi criada.
Em seu entender é importante dar-se a saber sobre os nossos costumes e sobre o modo como eles são realizados e interpretados e Paulina Chiziane utiliza a literatura para o fazer. Foi em função disso que, em 2009, convidei-a para falar com os meus alunos do curso de Ciências da Comunicação, para que, na disciplina que eu lecionava, a de Cultura Moçambicana, ela falasse sobre a temática das diferentes identidades culturais moçambicanas. Foi um encontro marcante, para os meus alunos e para mim. A conversa ajudou a desmistificar a ideia de que os moçambicanos eram todos iguais culturalmente e que viver à maneira ocidental, era o melhor que havia. Paulina ensinou-nos sobre a importância de se fazer escolhas conscientes. Que antes de tomar um posicionamento, convinha que a pessoa conhecesse o seu meio, o contexto que vive e a razão de o preterir. Isso ajudou-me muito a delinear dados para a minha tese (desejando, pode ser conferida aqui) e estimulou-me, sobretudo porque, após essa aula, pedi-lhe um autógrafo no meu exemplar do livro As Andorinhas (2009), no qual escreveu: “À Sara, amiga e companheira de utopia, um beijo.”
Libertar mentalidades oprimidas
Tempo depois, já em Fevereiro de 2019, antes de sermos, em Moçambique, assolados pela pandemia da covid-19, o Centro Cultural Português em Maputo colocou a Paulina Chiziane como a “escritora do mês”. No âmbito desse programa, fiz a apresentação da sua obra. Ela estava presente e, depois do evento, disse que se sentia feliz por ter sido entendida.
O que eu disse, em síntese, é que ela tinha uma obra caracterizada por três grandes aspectos: a crítica social, a demonstração do status quo cultural e a apresentação de diferentes saberes tradicionais moçambicanos. No conjunto, na minha opinião, a sua obra revoluciona e liberta mentalidades oprimidas. Julgo ter sido isso que a tenha agradado, uma vez que, em alguns círculos, ela é tida como perpetuadora de hábitos retrógrados. Para entender de que tipo, confira-se a leitura que fiz no 7MARGENS sobre o seu primeiro romance.

A questão que se coloca tem a ver com as interpretações que fazemos da arte e com o horizonte de expectativas do leitor (este assunto de horizontes de expectativa é teorizado por Hans Jauss, na sua obra A Literatura como Provocação, descrevendo-o como a expectativa que o leitor tem, ao ler uma obra, de encontrar representações daquilo que corresponde aos seus interesses). Claramente, que o objecto artístico, no caso, a literatura, é representação de uma realidade, e não a própria realidade. E descrevendo um facto cruel ou nocivo, uma leitura enviesada pode colocar o autor do texto como autor ou como quem partilhe do mesmo pensamento de um dos seus personagens, por exemplo. Sabe-se que não se deve proceder desse modo, mas muitas vezes isso acontece. Uma vez que Paulina, em grande parte da sua obra, narra realidades factuais, facilmente os contextos desse trabalho lhe são imputados como desejo de que o que narra se realize ou se perpetue. E não é verdade que assim seja. A arte serve para chamar a atenção a determinados factos, critica-os ou enaltece-os ou, ainda, projecta-os. O modo como o interpretamos carece sempre de uma contextualização que aceite a ideia de que a premissa seja ficcional.
Por tudo o que disse, defendo que o prémio Camões atribuído à Paulina Chiziane é merecido. É um tributo ao seu trabalho, à sua obra, à sua rebeldia e à luta das mulheres, por um lugar de pódio e não de subalternidade. E explico as razões.
Dignidade das mulheres
Retomo o exemplo da crítica social que fez, através do seu primeiro romance Balada de Amor ao Vento, na qual mostra que à mulher têm sido atribuídas as mais duras responsabilidades sobre uma família: a casa dos seus pais, depois no seu lar matrimonial. No Sétimo Juramento (2000), Paulina narra – critica – horrores sobre a ganância e a miserável condição humana. Expõe a nu aquilo que muitas das vezes se faz em nome da tradição, negando a sua mudança – para valores mais dignos, para perpetuar desejos inconfessáveis.
Através dos Ventos do Apocalipse (1993) e do Niketche: uma História de Poligamia, ela alerta sobre a sua luta contra o patriarcado, colocando personagens-mulheres “revolucionárias” na primeira obra: meninas que fisgam pássaros e caçam borboletas; uma mulher que responde mal ao marido e outra que abandona o lar; na segunda, coloca mulheres de um polígamo que se juntam e se mostram revoltadas contra o próprio, dizendo tudo o que lhes vai na alma. Algo raro em contexto real.
Há um outro estágio da obra de Paulina que é interessante, e pode ler-se em As Andorinhas, por sugerir a ideia da importância de se fazer mais do que a luta das mulheres pelo seu “lugar ao sol”, mas uma luta por uma mudança de mentalidade, a mentalidade oprimida do africano. E nisso ela usa como pano de fundo a fábula A águia e a galinha (s/d), de James Aggrey (1875-1927), que põe a tónica na importância de vivermos de cabeça erguida: não vivermos como galinhas, tal como fomos criadas, mas como águias.
A autora utiliza também como uma das suas epígrafes um ditado chope que diz: “Se queres conhecer a liberdade, segue o rasto das andorinhas”. Voar e libertarmo-nos da opressão contra nós próprios como seres humanos e contra as nossas próprias identidades e as dos outros é o desejo sugerido nessa obra. Há uma mulher real que é enaltecida nessa obra, Maria de Lurdes Mutola, moçambicana e primeira mulher-atleta que ganhou uma medalha de ouro e que foi vencedora em dez campeonatos mundiais de atletismo. É caracterizada por Paulina como uma mulher que tem sonhos, que olha para o horizonte em lugar de viver de cabeça baixa, que conquista o mundo. Através dela ou simbolicamente, Paulina sugere um debate para questionar o lugar, o papel e a identidade da mulher. Sobretudo do poder que ela tem.
A luta de Paulina ganha maior tónica, quando n’O Canto dos Escravos (2017) ela revela que a liberdade é um bem supremo para os seres humanos. Na verdade, parece ser essa a sua bandeira, desde a sua primeira obra. Tal é a sua ideia de disseminar a liberdade de pensamento que questiona, ao juntar-se a outros dois autores, um em cada livro, nas obras: Por Quem Vibram os Tambores do Além?, com Rasta Pita, e Na Mão de Deus (2013), em coautoria com Maria do Carmo Silva. Nestas obras, a autora discute a religiosidade, que tem ficado esquecida, da religião tradicional africana. Há muitos pontos de convergência entre as diferentes religiões existentes no mundo, que a levam a questionar as razões de se colocar a espiritualidade africana como superstição ou como crendice. Junta-se a esse tipo de obras Ngoma Yethu: O Curandeiro e o Novo Testamento (2015), escrita a quatro mãos com Mariana Martins, na qual as autoras “ousam” desafiar o pré-estabelecido, mostrando que a religiosidade africana não está aquém do já preceituado na Bíblia Sagrada. Tenho mostrado isso em alguns dos meus textos no 7MARGENS (por exemplo, sobre os rituais do nascimento e sobre uma celebração da fraternidade).
O apagamento das mulheres-rainhas
Há um dado muito importante que eu gostava de destacar na obra de Paulina Chiziane: o apagamento das mulheres rainhas moçambicanas e do seu poder como guerreiras. Na obra Por Quem Vibram os Tambores do Além? está mencionada a rainha moçambicana Achivánjila I (existiram outras quatro com o mesmo nome). Segundo a obra, Achivánjila I teve existência real e presenciou a escravatura e a dominação colonial. É uma figura que caiu no esquecimento histórico e antropológico nacional. Tive que ler Paulina para saber sobre a sua existência. Sempre me questionei como é que o povo angolano tinha a sua Ndzinga ou Njinga Mbande e nós não tínhamos uma figura similar. Não que quisesse que a história dos países fosse a mesma, mas já me coloquei essa questão, dadas algumas similaridades do modus vivendi dos povos angolano e moçambicano.
Há um assunto que é tabu falar-se em Moçambique, o racismo. Além dele, um outro que muito recentemente deixou de ser tabu e que permitiu que, em 2019, a Lei da Família fosse alterada: falo dos casamentos prematuros. Além deste assunto, Paulina aborda a questão da fertilidade, tida como um critério para validar ou não uma mulher como tal, em África. Estes e outros temas são abordados em O Alegre Canto da Perdiz (2008).
Paulina Chiziane escreve mais depressa do que eu possa ler. Falta-me ainda ler A Voz do Cárcere (2021) – escrita juntamente com Dionísio Bahule, mas não será por causa da falta de conhecimento sobre o que trata, que não possa concordar com a atribuição de um prémio à Paulina, até porque sei que há muito de humanitário, que essa obra aborda: questões ligadas à reclusão da mulher, aflorando claramente assuntos com impacto no sistema educativo familiar ou oficial.
Como não premiar, por unanimidade, a obra dessa escritora? Fazê-lo é mais do que premiar a persistência, é colocar a literatura no seu devido papel social e universalizar saberes africanos, que ainda têm um longo caminho a percorrer no convívio cultural e literário entre nações. Todas as componentes culturais africanas ou moçambicanas vertidas numa obra escrita em língua portuguesa pertencem-lhe. A língua portuguesa está impregnada de moçambicanidade, através das pertinentes reflexões que a obra da escritora suscita.
E este não foi o seu primeiro prémio. A escritora já foi premiada pela sua obra Niketche: uma História de Poligamia, que ganhou o Prémio José Craveirinha, o maior galardão literário moçambicano; em 2015, o canal de televisão Soico homenageou-a pelos seus 60 anos de vida e 25 do seu percurso literário; no ano passado, a Feira do Livro de Maputo, organizada pelo Conselho Municipal de Maputo, homenageou-a. Além destas premiações e outras de âmbito nacional, em 2013 recebeu, de Portugal, uma condecoração, o grau de Grande Oficial da Ordem Infante D. Henrique.
Docente de Técnicas de Expressão, na Universidade Católica de Moçambique, extensão de Maputo, membro do movimento Graal-Moçambique e colunista do 7MARGENS.*
Publicado no 7Margens.