Na adolescência quis ser rapper, até porque cresceu a ouvir rap em casa. Primeiro Unix e Wu Tang, com o irmão mais velho. Depois Drake, Tyler the Criator, Hernani da Silva, Laylizzy, Luar, Kloro e aquela malta que em 2009 conquistou e dominou a geração nascida em 94 e “proximidades” com o rap nacional. Assina como TRKZ (pronuncia-se tricks), tanto como músico, rapper e como produtor. Seu nome é Ailton Matavela. E quem o ouve hoje é, seguramente, capaz de desmentir as referências iniciais. Quem o ouve a partir de “Storrytellers” (2019) ou “Intervenção Divina” (2020) e o experimentalismo dos últimos trabalhos disponíveis no Bandcamp, como “Perola do Índico” (2020), tem outro TRKZ, que procura o sentido da vida noutra direcção, distante do rap.
A residir desde o ano passado em Paris, na França, antes de sair do país formou com executor e fabricante de mbira May Mbira e o beatmaker Nandele, o Cantinho das Cores e com Tiago C0rreia Paulo e Pedro da Silva Pinto, o Continuadores. Artistas de linhas diferentes que, de certa forma, o ajudaram a tecer o tecido sonoro que actualmente trabalha.
Depois de em 2019 ter estado no Mercado de Música do Oceano Índico (IOMA) em 2019, com Continuadores, este ano vai participar a solo, pela primeira vez. Pouco antes de se mudar para a França, conversamos numa tarde cinzenta, no Jardim Dona Berta, no Bairro Central, em Maputo. Contou-nos sobre o seu percurso e a forma como olha para a música a partir, sobretudo, da experiência do seu álbum de estreia “Filhos da Terra”.
Bro, como é que a tua cena com a música começou?
Comecei a cena com dois colegas da [Escola Secundária] Josina Machel. Fazíamos sessões de gravação em casa. Gravei uma ou duas músicas com Beto Banze, depois criei um grupo com Ian Simbine e o Afonso Muchanga, chamado Paper Jets. A malta começou a gravar cenas no estúdio do Romeu Pascoal, lá trabalhei com Cizerboss, por acaso. Depois disso, a malta começou a gravar nos estúdios da Sameblood. E no intervalo entre 2011-13, fiz algumas colaborações com Hernani [da Silva Mudanice], participei na E.P “Intelligence Ignorance” de Laylizzy e noutros projectos de Djimeta e do Luar.
Enfim, fui fazendo colaborações, eu era um cliente activo da Sameblood e consegui fechar um deal com eles de gravar músicas à crédito. E, nesse tempo, comecei a gravar o meu primeiro álbum, “Filhos da Terra” [2016]. É um trabalho lançado quase que por um acidente de percurso, porque eram por aí 15 músicas que era suposto estarem lá [mas foram 8].
Na gravação tive muito auxílio do Laylizzy e do Dice. Lembro-me que, naquele tempo, o pessoal até me perguntava, “porque é que não fazes música que se assemelha ao estilo do Djimeta?” Sei lá, não acreditavam muito no percurso que eu seguia, por ser desconhecido.
Então, na mesma altura, comecei a explorar-me mais como produtor e também a cantar sobre as minhas produções, meus próprios beats. Segui uma jornada assim, de exploração. Depois disso, entrei na Escola de Música, ao mesmo tempo que entrei na faculdade. Estudava na UNITIVA, o que me fazia chegar à cidade muito tarde, então, não pude dar continuidade às aulas de piano, na Escola Nacional de Música. Não fiquei muito tempo.
E o que é que te leva a seguir este percurso diferente? Porque, bom, pelo que contas, já entras para o meio com esta perspectiva…
Eu comecei como um rapper, mas era muito mais conhecido pelos meus coros, porque eu cantava bem. Então, eu pensei assim: as pessoas podem me ouvir como ouvem qualquer outra pessoa, se eu continuar a escrever como escrevo, e se eu tentar usar a música para expressar as coisas de que não consigo falar, dizer aquelas coisas que eu não consigo abrir para mim mesmo…
Usei a música como uma forma de expressão, de ser realista, sincero e honesto comigo. Tive inspiração do Drake, no início, e Tyler the Criator. Mas quando era mais novo, o meu irmão gostava de ouvir Unix, Wu Tang, cenas dessas. Comecei a pegar um bocado mais pesado, apesar de fazer músicas em beats ligeiramente populares. Queria, de certa forma, ser visto como uma pessoa que fala coisas que fazem sentido e desmistificar a ideia de que um adolescente não é capaz de falar de um assunto muito sério.
Sinto, mais ou menos, esse feeling na tua colaboração no álbum Xigumandzene, de Kloro.
Pois, pois, Xigumandzene veio numa outra fase em que o “Filhos da Terra” já estava lançado. Conheci o Kloro, uma das pessoas que mais me abraçou. Com o Kloro, tive a mesma relação que tenho com o Laylizzy, por exemplo. São pessoas que me serviram mais de mentores a nível mental. Eles contribuíram para o meu crescimento pessoal e conversávamos bastante sobre aquilo que fazemos e trocamos ideias.
A dica foi essa. Entrei para a universidade. Quando isso acontece, todo o meu universo sonoro mudou, a partir do conteúdo das minhas letras. “Filhos da Terra” foi a partir do período em que comecei a estudar Psicologia Social e de Trabalho. Entrei para Universidade com dois meses de atraso, por isso eu estava constantemente a ler, porque era uma área que me interessava bastante. Eu estava numa incubadora, a ler os livros, os conceitos que me chamavam a atenção e descobri que eu sempre estive interessado nos seres humanos.

Eu acho as tuas músicas muito escuras, sobretudo depois do “Filhos da Terra”, quando entramos para cenas tipo o álbum “Storrytellers” (2019), que inclusive apresentaste no Centro Cultural Franco Moçambicano, são cenas mais escuras, mais labirínticas. É resultado desta tentativa de entender o interior humano?
Por acaso, usei muito mais os conceitos de Psicologia durante “Filhos da Terra”, que onde contei tudo o que acontecia na minha vida, a partir do momento em que tive os 18 anos até então. Alguns episódios foram casos dignos filmes.
Vivi situações muito conturbadas, de muita revelação espiritual (a nível familiar e pessoal) e foi uma época de muitas descobertas. Descobri que existem várias formas de vida, no mundo, e abri-me bastante em relação a isso. Claro que essas descobertas brotam de um lugar obscuro, porque é um lugar desconhecido, um lado que não exploramos muito. Então, procurei desmistificar mais esses tabus, tocar na ferida.
Como produtor, sinto que a questão de tocar no que não foi falado não termina apenas nas tuas letras, a forma como compões as tuas instrumentais vão nessa direcção. Primeiro, tem uma dimensão de criar uma atmosfera, mesmo, mas depois tem uma cena de explorar espaços sonoros que antes eram vazios…
Por acaso, o período entre o “Filhos da Terra” e o “Storrytellers” foi um intervalo de quatro anos. Após acabar a universidade, decide seguir a música. Epah, peguei um microfone emprestado Yannick Magaço. Ele foi uma das pessoas que mais me inspirou a seguir o meu caminho, porque eu ainda estava um pouco indeciso no que eu ia fazer, então só segui o meu coração.
Comecei a engrenar mais na música, entrei para [orquestra de música clássica] Xiquitsi, que também deu um boost muito grande, em termos de confiança em palco, na minha voz, no meu potencial e no meu ouvido.

Hoje é menos rapper e mais o singer…
E não só. As letras também mudaram. Hoje em dia, não sou muito interessado em espalhar conhecimento como o fazia em “Filhos da Terra”, “Filho da Lua”, não estou interessado em usar poesia que seja algo palpável. Hoje tem muito mais a ver com o momento e as suas sensações, é muito mais espacial e temporal, não posso dizer de cada uma das músicas, é instinto, como se fossem fragmentos de uma memória, um desenrolar de um sonho e pintar um quadro, uma imagem de um momento.
Enquanto respondias lembrei-me de depois do lançamento de “Storrytellers”, no “Franco”, eu perguntava-te “o que é isto?” e tu respondias… “bom, isto não é R&b, não é hip-hop, não é soul, é uma cena que não tenho como definir…”.
Posso dizer que “Storrytellers” é um álbum que alberga tudo aquilo que eu fui descobrindo ao longo do meu processo, como produtor, como Singer, e incorpora tudo aquilo com que me identifico hoje em dia. Tenho umas referências discográficas que me orientaram bastante ao longo do percurso. Eu já ouvia essas músicas desde a adolescência, quando eu estava ainda a gravar “Filhos da Terra”, mas só hoje em dia que eu consigo, mais ou menos, transmitir aquela sensação que a música me deu e tentar incorporar numa coisa minha. Até hoje, sempre escuto músicas que, para mim, estou longe de fazê-las, muito longe de realizar algo daquele calibre, sempre tento escutar coisas que ainda não consegui fazer, de modo a aprender alguma cena, explorar sensações. Descobri que música não é uma coisa só de transmissão de mensagem, cada som emite uma sensação à pessoa. Então, foco muito mais nessa sensação do que necessariamente no entendimento, ou conhecimento de causa. É muito mais sensorial do que mental ou psicológico. Vi que eu estava numa escuridão, mas sempre quis transmitir uma luz, dediquei-me fazer músicas mais felizes. Músicas de alguém que busca a felicidade. A felicidade que eu encontrei, artisticamente, foi encontrada num lugar sem limites, onde precisa da morte para poder ressuscitar como novo, para poder desmaterializar-se.
Capas dos trabalhos do TRKZ disponíveis no Bandcamp

Capa de Pérola do Índico 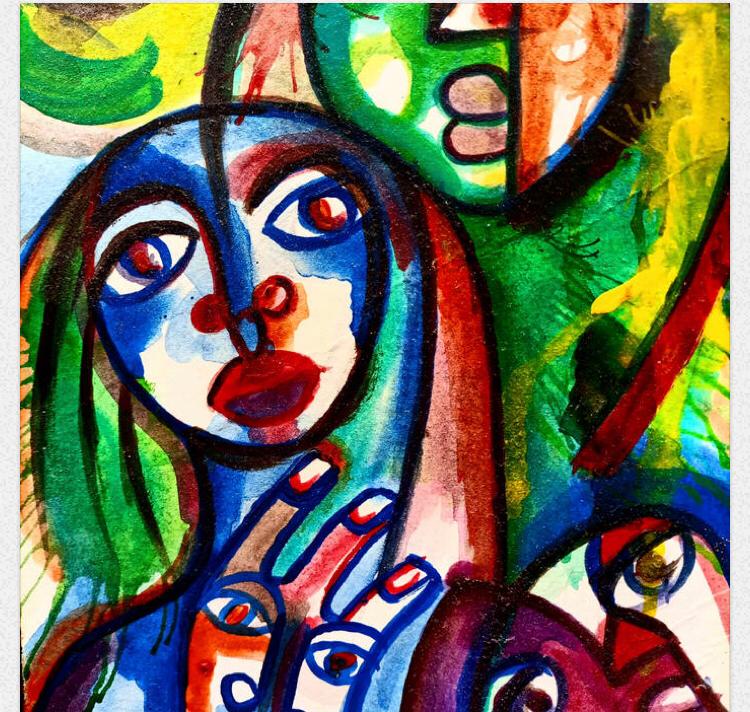
Metuge à Chibuto 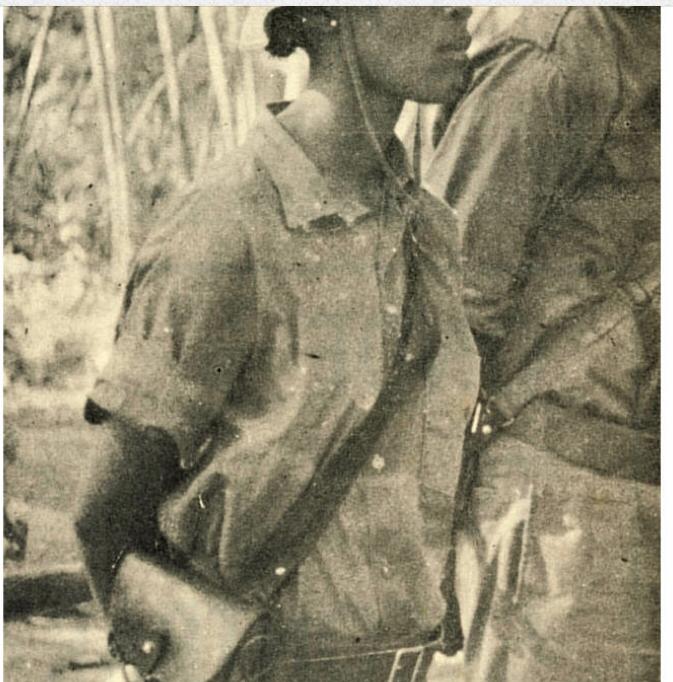
O Homem Novo 
Capa de Folhas de Outono
Que lugar é esse?
Quando tentas buscar o infinito ou quando tentas explorar ao máximo um certo universo mental, tu nunca estás completamente claro no que é que tu estás a te meter. Sempre vai lá na curiosidade, no sentido de explorar cada vez mais, mas há pontes que atravessas, músicas que graças, que te sentes que fizeste uma descoberta precocemente. Como se fosse muito cedo para teres feito tal descoberta. Sentes-te perdido por tentar buscar o infinito, mas a verdade é que se tu vais ao infinito, é óbvio que te vais perder. E essa é a parte que eu não sabia, quando eu vi, descobri esta jornada não é medida por um caminho que tem um início e um fim, que vai de A para B, mas são essas descobertas internas que ditam aquilo que estás a ser. Pensei que fosse perder a cabeça, como se fosse um cientista que faz a descoberta de algo que ele queria tanto descobrir. Quando, finalmente, está lá perto, fica cheio de medo, será que este é o fim de tudo?
Isso remete à crença de que nós vivemos várias vidas, a ponte de uma encarnação para a outra, de uma forma de estar e viver para uma outra forma de existir, em que deixamos de ser matéria e somos somente pequenos átomos, como a brisa que sopra sobre nós agora e, simplesmente, existimos. O que as pessoas podem ver é só uma percepção visual, mas nós só existimos num mundo que vai além da matéria. É um pouco complexa essa visão, porque provei muitas músicas. Para eu chegar onde estou agora, foi necessário eu manter um equilíbrio entre o que eu sei fazer, aquilo que sou e as minhas descobertas ao longo do tempo – que não é necessariamente focar, somente, num infinito, tentei focar-me num espaço e naquilo que encontro neste determinado espaço. Se eu encontro o som de pássaros, do mar ou do vento… estas coisas têm a uma representação simbólica para mim. “Storrytellers” é a representação de Maputo, para mim. Significa, para mim, Maputo (província e cidade). É a minha representação de Maputo, porque tenho sons de pássaros que eu capotei numa rua. E, ao chegar no aeroporto de Maputo, seja qual for a proveniência da pessoa, vai ouvir aqueles mesmos pássaros, ali no aeroporto, mas eu captei aqueles pássaros numa rua qualquer. Então, há uma identidade sonora, em termos de biodiversidade. Os pássaros que apanhas aqui não são os mesmo que encontras na Matola, ou em Marracuene.
Tentei seguir só coisas muito específicas, mas ao mesmo tempo vagas, para tentar justificar a presença da natureza na nossa vida, ainda que a minha vida seja num contexto urbano. Tentar encontrar isso é Nice…