Casé Lontra Marques é um poeta brasileiro nascido a 13 de Novembro de 1985. Vive em Vitória, onde se formou em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo. Em 2008, foi publicado o seu primeiro livro: “Mares inacabados”. Desde então, escreveu “Campo de ampliação”, “A densidade do céu sobre a demolição”, “Quando apenas se aproximam os rumores da chuva”, “Saber o sol do esquecimento”, “Movo as mãos queimadas sob a água”, “Indícios do dia”, “Enquanto perder for habitar com exatidão”, “O que se cala não nos cura”, “A língua entre os lapsos”, “O som das coisas sem descolando” e “Desde o medo já é tarde”, entre outros projectos em andamento. Reúne o que se produz em sua página pessoal: caselontramarques.blogspot.com
Casé Lontra Marques chama atenção pelos títulos que dá aos livros. Entrou no livro na fase da adoloscência, iniciou com a imersão em publicações sobre história da arte, sobretudo o desenho. Viajou pela filosofia até desaguar à literatura. Os livros que mais o movimentaram foram aqueles cujas águas instalaram interrogações permanentes. Devido a um poema que o vem visitar, acredita que os livros servem para nos fazer sangrar de maneiras diversas; servem para esquentar o sangue, permitir ou propiciar o contacto com o sangue das coisas. Fervilhante.
Hirondina Joshua: Escrever é como respirar?
Casé Lontra Marques: Escrever tem algo de respirar, sim. A linguagem verbal se avizinha de duas atividades vitais, com as quais partilha importantes órgãos — sendo a boca, talvez, o mais emblemático: respiração e alimentação. Falando especificamente da minha prática, noto que minha presença na poesia se deve, em grande medida, aos pulmões. Pois aí (nesse território extremo que é a poesia) percebo que o ar me chega melhor.
HJ: A descoberta, o misticismo são muitas vezes citadas na literatura e acompanham o homem. No processo da criação há essas penumbras?
CLM: Depende da poética, penso. Há pessoas para quem isso é um dado fundador; contudo, outras exploram diferentes caminhos. De toda forma, a penumbra — em ambos os casos — parece ser onipresente. A insuficiência da luz…
HJ: A primeira e ou eterna pele do autor é a leitura. Por quem já foi contaminado.
CLM: Muita gente, com certeza. Sobretudo porque a contaminação continua em curso. No entanto, citarei três nomes que participaram decisivamente da minha formação: Cecília Meireles, Fiama Hasse Pais Brandão e Orides Fontela.
HJ: Aterrorizam-me os modos de vida de um criador. Pode-se viver somente da arte ou a vida exige a turbulência necessária para a existência da obra?
CLM: Vivo da arte que pratico, mas num sentido — como dizer? — urgente: a existência precisa ser tecida dia a dia. E o faço com as mãos que a poesia me dá. Não fosse a escrita, grande parte das minhas escolhas teriam sido diferentes. Propiciando outros percursos (possivelmente menos pulsantes). Agora, preciso exercer outra atividade para garantir a subsistência material.
HJ: Poesia. – Reparo: os seus títulos são como se tivessem saído de um verso, remetem também a formas narrativas. Por exemplo: Movo as mãos queimadas sob a água; Saber o sol do esquecimento; O som das coisas se descolando; A densidade do céu sobre a demolição.
CLM: Venho tateando nessa linha mesmo. Acho que o título pode ser quase um poema, chamando para dentro do livro — e, ao mesmo tempo, convocando para o mundo. A partir, claro; a partir dos vetores de experiência que atravessam o volume assim nomeado.
HJ: Cada vez mais o espaço mundo está perto: em Moçambique o que sabe de literatura.
CLM: Mais perto, é verdade. Contudo, ainda há muito para caminhar: não faltam informações, porém são poucos os filtros. No Brasil, lamentavelmente, circulam notícias escassas acerca da literatura moçambicana, como de tantas outras. Perto ou longe, geograficamente… Encerrando por aqui meu breve lamento, destaco a poesia de Luís Carlos Patraquim — tenho uma bela antologia do autor.
***
Três Poemas de Casé Lontra Marques
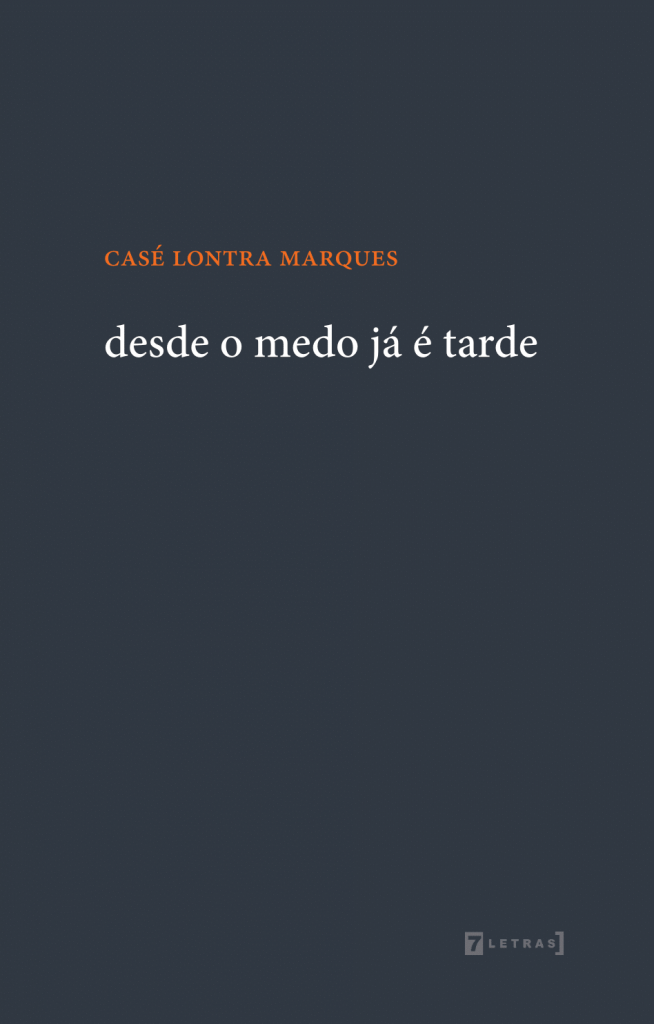
Paixão alguma requer piedade
Paixão alguma requer piedade:
partilha (ou
despossessão) ardida —
peneirando
sismos: a vida, eclosão
de trajetos ungidos
por
lapsos prolíficos
(é
a inviabilidade que
valida seus
vínculos).
Nem redenção nem rendição
Nem redenção nem rendição. Diante da brutalidade diária mas indigesta, do embrutecimento — não só da desinibição — dos tribunais que introjetamos; diante dessa atrocidade subterrânea ou não/sorrateira ou não/silenciosa ou não. (Desprezo.) Entre frondosas, frutíferas crueldades em alguma medida consentidas. E enfim desatravancando as entranhas, afirmo (apenas pelo prazer de afirmar, pela potência que habita tal prazer afinal tão irreconciliável quanto irredutível): desprezo, sim. Desprezo a vida que diminui a vida (e diminuir a vida é também não confrontar. Diminuir a vida é também não comprometer a vida). Espontaneamente: desprezo. Como uma forma de flutuar. Pacientemente: desprezo; — com a ferocidade do amor que há em mim, com a felicidade do ódio de que não abro mão; — desprezo e desprezo e desprezo a vida que limita (ou deslegitima) a vida. Que mitiga (ou criminaliza) a vida. Sobretudo aquela que desconhece alegria sem sangue sem pus sem gangrena.
Sabe?
Até o suicídio. Diante da brutalidade diária porque indigesta. Até o suicídio é um ato de vida. Não se trata de morte; da morte
temos hipóteses
pouco úteis. Quando já não existem sequer estilhaços-estímulos-estuários de vida exilados da dor (das duras dimensões da dor), suicídio é o gesto extenso. Melhor: suicídio é o gesto terreno de um corpo que não abdica
do
vigor cujo pólen (não néctar) abastece — e principalmente municia — tudo que pulsa. Ou vibra. Ou vibra. Em outros planos,
em novos
palcos de propulsão. Os fetos
que
carrego falam: um cadáver é paisagem que prolifera. (Tecido intrans
i
gente, testemunha
intersticial?)
Esgoto o rosto. As ruínas. Os horrores que produzem um rosto. E lanço a língua para longe. O lugar
da língua
é a lesão. A elisão. Suas sementes são sequelas. Larvas
nada
dóceis. Borbulhando. A boca
continua uma ferida
incerta. Que renasce. Condensando a solidão. Que renasce
fora
da carne. Dos mantos
e mantras
da carne. — Contra
o cinismo que nos acelera, a sutileza
da
hesitação? — Sem mastros ou margens:
todo sono
é ancestral. E o perigo
do
sono. O perigo do sono é (ainda)
a
sua tranquilidade.
Porque no momento em que me recolhe
Porque no momento em que me recolhe
sou somente
um ruído que aprende a respirar
sob seus órgãos;
uma forma — violenta — de incandescência:
como
a condensar as idades
das áreas mais claras
da casa
onde
recebemos a extensão da nossa
insuficiência? Espalho as frutas
pelo assoalho
das horas futuras — o que não significa
que suas alas (voltadas para a água)
sejam
únicas: os cães que retornam, calmamente,
formam uma memória
úmida. Por
entre mapas, — reagindo, — ultrapassa
a impaciência: a lenta
permanência
da impaciência cuja ossatura
excede a fala:
em torno
da
xícara vazia — enquanto
a face
— súbita — vibra:
os objetos que prolongam o corpo,
as letras
que povoam
a página, os segundos
que precedem
o sono
revivem, indefinindo-nos,
o risco
de um riso nítido.