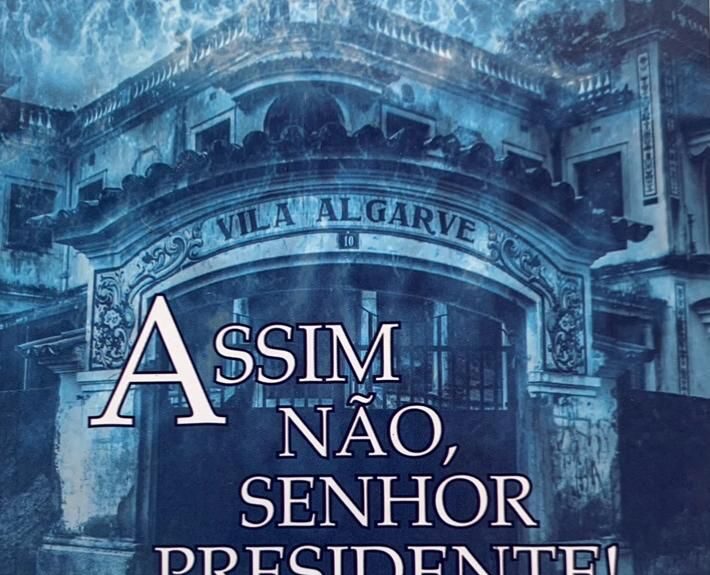Consta que, a 26 de Novembro de 1917, tropas alemãs invadiram as regiões das actuais províncias nortenhas de Niassa e Cabo Delgado, da então Província Ultramarina Portuguesa, no contexto da I Guerra Mundial.
Esse episódio esquecido da memória colectiva, não obstante as forças germânicas terem chegado a Zambézia, é o mote do novo romance de Mia Couto, intitulado A Cegueira do Rio.
Sob chancela da Fundação Fernando Leite Couto e capa ilustrada por um desenho de Butcheca, o romance acentua um Mia Couto mais tendente para o romance histórico à moda de Walter Scott.
O romance histórico é um género literário que mistura ficção com eventos, personagens e cenários reais do passado, criando uma narrativa que entrelaça factos históricos e elementos imaginários.
A Cegueira do Rio traça o ambiente tenso que antecede as guerras — que, como é sabido, têm no disparar das armas o culminar de uma série de eventos extremos. Há uma eminente ameaça de que a Alemanha invada o território (a província ultramarina, no caso).
O território a que hoje chamamos Moçambique é um lugar permanente e continuamente em guerra, se olharmos pelas lentes da literatura de Mia Couto. Sustento-me, para tal, apenas nos seus romances Terra Sonâmbula (Guerra dos 16 anos), Mapeador de Ausências (com um massacre no centro da trama) e na trilogia As Areias do Imperador (que aborda a disputa por Gaza).
No enredo, surge uma figura sinistra: Sisnado Baião, um padre que escreve a sua própria Bíblia. Ele, antes de todos os outros moradores da aldeia, percebe o ambiente de tensão e põe-se a, do seu jeito, evitar que o conflito ecloda.
O sacerdote, casado com uma curandeira rainha de nome Aluzi Msafiri — o que lhe confere legitimidade na comunidade de Madziwa —, tenta controlar a narrativa sobre a morte de um português e de sipaios moçambicanos. Manipula a verdade com mão firme.
Já de si controverso (um absurdo aos olhos da ortodoxia cristã, pois os padres não se casam, muito menos se aliam ao obscurantismo), o seu modelo de pregação incorpora o misticismo como ferramenta.
Mia Couto regressa ao seu habitat natural: o meio rural. É o palco onde, regra geral, se desenrolam os seus romances — com raras excepções —, e onde persistem os conflitos existenciais e de coabitação entre portugueses e nativos.
Nesta obra, o autor volta a demonstrar a sua preocupação com a linguagem. Se antes recorria a neologismos, transpondo para a literatura a arquitectura discursiva das línguas nacionais moçambicanas (a chamada “miacotês”), agora concede aos personagens a oportunidade de se dirigirem ao leitor em primeira pessoa, como num confessionário. À semelhança de Leite Derramado, de Chico Buarque, acedemos à visão do mundo destes através dos seus monólogos — por vezes em jeito de diálogos.
É uma estratégia que amplia o habitual método de Couto: alternar episódios de descrição, acção e diálogos, intercalando cartas entre personagens ou leituras de documentos.
Outro pormenor relevante é a presença do rio no título. Uma evocação persistente na obra do autor. Basta lembrar Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra (2002) ou as menções em contos como Vozes Anoitecidas, onde os rios surgem como limiares entre vida e morte, ou em Raiz de Orvalho e Outros Contos, onde são guardiões de segredos.
Esta persistência talvez revele um conflito existencial — individual ou colectivo. Se o mar representa o mítico, a lonjura do enigma, o rio é o interior da terra. Em A Cegueira do Rio, ele é familiar aos nativos, enquanto o mar simboliza o caminho para mundos misteriosos, a grandeza que exige sofisticadas navegações. Ao rio, bastam-lhe canoas.